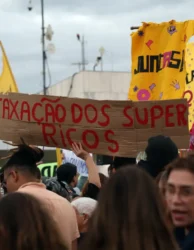Por Estefanía Santoro
Publicado no Página 12
A monogamia, o casal fechado, a figura da cara-metade que encontra a parte que falta… isso é isca da felicidade, do “amor verdadeiro”, da estabilidade. Cupido, São Valentim e cadeados nas pontes para selar juramentos como se fossem cintos de castidade. Essa é a educação e o dever sentimental dominante, sustentado por leis, organização social, mandamentos religiosos, canções, novelas, inúmeros filmes e livros, a mesa de jantar de família e até consultórios médicos e psicológicos. A monogamia é o paradigma hegemônico produtivo e reprodutivo da afetividade sexual, apresentado como um ideal a ser alcançado.
Como se fosse a única opção.
Brigitte Vasallo é uma escritora catalã, ativista lésbica e feminista. Desde 2013, vem desarmando o discurso da monogamia, investigando como migrar daquele regime sem reproduzir a mesma violência suscitada em nome do amor romântico, quais são os desafios e medos que surgem quando se trata de desmantelar as relações a dois, e que formas estão adquirindo relações não monogâmicas como poliamor, amor livre, vínculos múltiplos.
Vasallo está há mais de vinte anos em relacionamentos que tentam não ser exclusivos. A partir disso, em seu livro O desafio poliamoroso: por uma nova política dos afetos, a escritora investiga como a centralidade da monogamia influencia historicamente as construções amorosas e seus mecanismos de imposição. Se o que define a monogamia é a exclusividade sexual, é fácil notar suas falhas na infidelidade, que é sua melhor parceira.
A infidelidade, explica Vasallo, faz parte desse sistema, por mais que seja apontada como ilegítima, como algo errado. O que define a monogamia, na realidade, é “a importância do casal em relação aos amantes ou outros amores. A hierarquia de alguns afetos sobre outros”, aponta. Pode haver outros relacionamentos sexuais, mas apenas um é aceitável e correto.
O poliamor pode ser machista e neoliberal, assegura Vasallo, e chama a atenção para o que chama de “monogamia disfarçada de poliamor”, um discurso neoliberal que vende laços divertidos, alegres, modernos, livres, sem dor, mas que esconde a falta de cuidado, onde o que acaba acontecendo é a existência de relações não monogâmicas baseadas na reprodução da monogamia. Então, é apenas a exclusividade sexual do casal que deve ser desmantelada? Como abrir esse confinamento sentimental sem que ninguém seja deixado pelo caminho?
Vasallo propõe desmantelar “o monopólio da monogamia”, concebendo o amor ou amores como “redes afetivas” com base em três princípios básicos: inclusão, convivência e cooperação, e também o cuidado mútuo, a coletivização dos afetos, desejos e dores, sem competições ou hierarquias. A chave é perguntar a nós mesmos: como podemos fazer isso?
O que significa monogamia disfarçada de poliamor que você fala em seu livro?
Normalmente, quando falamos em monogamia, estamos pensando no relacionamento romântico de um casal, o interesse apenas por aquela pessoa e com exclusividade sexual, essa parece ser a definição atual. O que chamo de monogamia é um sistema que nos organiza socialmente por meio de afetos e vínculos e que coloca o casal no centro. Não é que o casal tenha que ter exclusividade sexual, ou que seja composto por duas pessoas, ou que ocasionalmente possam ser mais. Essa não é exatamente a questão, mas o lugar que essa estrutura ocupa em toda a organização social. E o lugar que ela ocupa não é algo que decidimos, mas sim uma necessidade do próprio sistema: e essa estrutura ocupa o centro do sistema. Quando falo de monogamia disfarçada de poliamor, refiro-me às tentativas que fizemos – claro que me incluo – de romper a monogamia gerando relacionamentos que herdaram formas monogâmicas, que apenas apontavam para o número de casais envolvidos. Isso não muda nada estruturalmente, nem socialmente, além de sua vida particular. Essas mudanças me parecem de pouca importância, pouco comunitárias e também que sejam pouco sustentáveis. Foi exatamente por isso que comecei a investigar um pouco de tudo. A monogamia disfarçada de poliamor seriam relações consensuais, múltiplas e simultâneas, mas que herdam completamente as formas do sistema monogâmico. O que tento mostrar no livro é que a exclusividade sexual é consequência da forma como organizamos as relações, não a causa. Do jeito que colocamos, a necessidade de exclusividade sexual é óbvia.
É possível desmontar essa pirâmide que coloca o casal no topo?
Sim, claramente, não temos sonhos modestos. Alguns de nós estão pensando em como acabar com o gênero binário, com o capitalismo ou com a organização das fronteiras entre os países. Temos que pensar que vamos conseguir tudo isso também para conseguir levantar todas as manhãs e continuar existindo com energia, corpo e alegria. Entendo que podemos não ver o seu fim de imediato, vai demorar e há muito a ser desmantelado; no entanto, acho que é possível e é urgente desmantelá-lo. Quando digo desmontar, não quero dizer deixar de ter um parceiro ou parceira ou ter que dormir com um monte de gente, ou fazer todas aquelas coisas que vimos sendo feitas em nome da destruição da monogamia. Acredito que precisamos – e que é urgente – tirar o casal do centro nos contextos onde o casal está no centro de forma sistêmica. Não acho que seja no mundo inteiro, mas sabemos que existem espaços onde estruturalmente é assim. E como sabemos quando é estruturalmente assim? Tão simples como quando você não pode pagar um aluguel ou comprar uma casa se não for com o seu parceiro ou parceira, como quando todo mundo aponta para você quando você é solteiro, ou quando você não pode ter um filho sem ter um companheiro ou companheira, ou quando só seu companheiro pode ir ao hospital se você estiver doente – inclusive, podendo tomar decisões sobre seu próprio corpo. Nos lugares onde tudo isso acontece de maneira natural, o casal é a estrutura sistêmica. Tudo isso é o que precisa ser desmontado.
É possível construir relacionamentos não monogâmicos a partir de uma rede afetiva enquanto a monogamia continua sendo a norma, o “monopólio” das relações?
Sim, acredito que estamos fazendo isso e já fizemos antes, e não apenas as pessoas não monogâmicas que se autodenominam dessa forma, pois acredito que não poderíamos sobreviver como sociedade se esse sistema estivesse perfeitamente implementado. Acho que essa rede está em constante desenvolvimento e desdobramento: o que acontece é que não prestamos atenção suficiente a ela. Esse é um dos apelos do livro: enxergar o que já construímos. Essa rede está aí, vimos muito dela na pandemia. Redes nos bairros que se organizaram para cuidar de vizinhos que você nem conhece, que não passam necessariamente por afeto, desejo ou consanguinidade, mas sim por formarem uma comunidade. Quando falo de amor não monogâmico me interesso e foco, por exemplo, em relacionamentos não sexualizados, como as amizades, as vizinhanças. Pareceu-me uma prática não monogâmica de primeira ordem preocupar-se com os vizinhos nestes tempos de pandemia que tivemos que viver, perguntar se precisavam de algo, de alguém pra fazer as compras, por exemplo. Sei que não é o que normalmente se entende pela pergunta, mas é onde procuro colocar o foco, pois isso me parece transformador. O sistema monogâmico destruiu as relações comunitárias, e é aí que temos que focar. É preciso enxergar os impedimentos que esses sistemas cruzados impuseram, fragilizando as relações comunitárias nas grandes cidades, que é de onde escrevo.
Qual é o maior perigo de cair sem perceber ou questionar na dependência gerada pelo amor romântico, o “amor Disney”, como você chama?
Eu chamo de Disney porque acho muito gráfico. Disney não é o tipo de amor, mas o tipo de narrativa desse amor. Há uma coisa muito curiosa que parece que todos nós estamos aprendendo a ver, que é como os outros têm “amores Disney”, mas o nosso não, o nosso é o que chamamos de “amor verdadeiro”. Disney também é de verdade, também é sentido verdadeiramente. O que estamos criticando são as narrativas que fazemos em torno dessa coisa que, claro, achamos legítima, estupenda e perfeita. Então, qual é o perigo dessa narrativa e para o que estamos apontando? Estamos apontando para um modo de narrar, de autossugestionar e, ao mesmo tempo, de propagar formas amorosas que fazem com que, quando a violência chegar, que é o que me interessa, não possamos fugir. Eu quero saber o que podemos fazer em termos comunitários para criar rotas de fuga para quando a violência chegar. E quando digo violência quero dizer feminicídios e toda a violência que vivemos e exercemos em nossas vidas com uma desculpa amorosa. Porque acho que se pararmos para pensar quantas vezes teríamos saído de um relacionamento e não o fizemos por fatores externos ao que está acontecendo nesse relacionamento, vamos obter alguns números e respostas que não temos coragem de assumir. Todo esse contexto que nos impede de sair faz parte desse “amor Disney”.
Mas também não podemos ignorar que, muitas vezes, sair de um relacionamento violento significa ficar na rua.
É de extrema importância lembrar também das condições materiais. O que nos impede de fugir da violência não é só todo esse sistema que nos diz que sem um parceiro você não é ninguém, você vai ficar sozinho, ninguém vai cuidar de você, você não pode alugar um apartamento. Tudo isso é verdade. Mas, para além disso, também há situações administrativas pelas quais o casal passa, como questões de fronteiras, de educação, de tudo. Então, não podemos pensar em desmantelar o casal se não colocarmos sobre a mesa todas as condições materiais necessárias para que, quando a violência vier, a gente possa realmente partir, que tenhamos o sustento justamente para isso, para aluguel, comida, para sustentar os filhos, para todas essas coisas pragmáticas. Quando falamos de amor, estamos falando disso.
Em seu livro você fala sobre a “Energia da Nova Relação”. Como você definiria isso, que parece ser a grande armadilha do amor romântico?
A Energia da Nova Relação é muito conceituada na literatura poliamorosa, há vários trabalhos de autoajuda sobre o que fazer quando seu parceiro ou parceira sente essa energia por outra pessoa, essa energia que é uma escalada: ele só quer estar com a outra pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, só pensa na outra pessoa. Então, você, que é o parceiro daquela pessoa que está passando por tudo isso, como você trabalha esse sentimento e como faz pra não se machucar nessa situação? O que eu digo no livro é que isso tudo me parece uma merda, me parece muito violento. Não entendo por que temos que nos desconstruir para passar por isso, para estar lá. O que eu afirmo é que essa escalada é sugerida pelo sistema. Tudo isso tem a ver com o amor romântico, com o que chamo de “amor Disney”, com formas de amor nascidas na Europa nos séculos XVIII e XIX e que se espalharam e se impuseram. Essa é precisamente uma das coisas que temos de desmantelar. Se relacionarmos uma situação como essa com qualquer outra coisa que não seja o amor, estaríamos nos preocupando com nossa saúde mental e, no entanto, no amor isso é totalmente justificado e permitido: a obsessão, a perseguição, até o autoabandono.
Não existe para você algo da ordem do desejo que funciona assim, fora de controle, num primeiro momento?
O mito da Energia da Nova Relação é continuar alimentando isso que se chama de amor e que sempre tem formas de romantização, e também torná-lo tão desejável que nos autossugestionamos a sentir isso todas as vezes. Às vezes eu crio polêmica quando digo isso, porque dizem que esse sentimento é uma coisa maravilhosa, que gostamos de senti-lo, e como vamos desistir dele? Então eu sempre dou como exemplo muitas outras catarses, catarses coletivas que temos e que não renunciamos a elas, mas que assumimos a agência sobre elas. E agora me ocorre: é como quando vamos a uma festa para dançar até o dia seguinte e temos aquela sensação que sobe pelo corpo, que é maravilhosa, mas que decidimos quando vamos tê-la. Não é sempre que acontece uma festa dessas que a gente vai largar tudo e ir pra lá, essa é a diferença. Deveria ser parte de uma agenda feminista recuperar a própria agência sobre o desejo também. E retomar a agência nem sempre significa ter que atender ao desejo. Quando falamos de amor livre me assusta que não entendamos relacionamentos exclusivos como amor livre. Porque essa decisão também deve ser tomada em liberdade. Acho que tem havido uma confusão quando se pensa que se deve sempre atender ao desejo ou que a liberdade é sempre atender ao desejo. Liberdade é justamente poder decidir o que fazer com esse desejo dependendo do momento, das circunstâncias.
Em seu livro, você menciona que teve um vínculo em que existia grande amor mútuo, mas que, para o bem da rede afetiva daquela pessoa e o bem comum entre vocês, ela resolveu terminar o relacionamento entre vocês. Como controlamos esse desejo?
Também entendo que isso faz parte da herança monogâmica em nossos relacionamentos, porque continuamos com a ideia de que o desejo é algo que vem e te parte ao meio: o Cupido, a flecha. O que a monogamia nos diz, o discurso da Disney, é que o Cupido vem, atira em você e você não pode fazer nada a respeito, que é algo que está fora do seu controle. E também algo que só acontecerá uma vez na vida. Quando esse sentimento acontece mais de uma vez, não conseguimos explicar e desabamos um pouco. O problema não é que isso aconteça mais de uma vez na vida, o problema é que não funciona assim. O discurso de que o desejo é irresistível é extremamente problemático em termos de cultura do estupro. Não podemos continuar a alimentar esse discurso. É claro que os desejos são controláveis e é claro que tomamos muitas decisões em relação aos nossos próprios desejos. Por outro lado, a questão do controle também é polêmica. Assim que a palavra “controle” aparece, parece uma coisa terrível, mas controle só é uma coisa terrível quando é hierárquico, quando o Google está controlando você. Outro jeito de enxergar o controle é sobre a ótica da responsabilidade, sobre poder ter distância e liberdade. Sobre poder tomar uma decisão sobre si mesmo e que não haja impulsos que decidam nada por de você.
Qual você acha que é o grande desafio poliamoroso?
Para mim, o grande desafio é desmantelar esse sistema sem que isso nos leve ao neoliberalismo de nos pensarmos como indivíduos não interligados, que consumimos uns aos outros — todas essas dinâmicas que vimos e que vemos de acordo com uma ou outra corrente poliamorosa. Acho que estamos nessa chave e me parece que é uma chave transcendental em muitos níveis.
Há um capítulo no seu livro chamado “Terror poliamoroso”. O que você quer dizer com isso?
Quero dizer que o sistema nos reduziu ao núcleo do casal, nos obrigou a nos desassociar de tudo o mais, nos impôs formas específicas de isolamento. Por exemplo, submetendo-nos a jornadas de trabalho insustentáveis que nos impedem de gerar outras redes afetivas. Vivemos no limite de nossas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, a casa e o casal é o último núcleo que nos resta, o último refúgio. E, de repente, dizemos que isso tem que ser desmontado. Não me surpreende que seja aterrorizante. O que devemos realmente dizer é que temos que criar as condições materiais para que o casal não tenha tanta centralidade. Quando ele deixa de ser tão central, se é realmente assim que você quer viver, maravilhoso. Mas isso não será mais sistemicamente obrigatório, não será mais a única chance que teremos de sobreviver, porque, ao mesmo tempo, não acho que seja uma possibilidade real de subsistência. O cerne da questão é lembrar que desmantelar o sistema é retirar o casal do centro, mas que isso só pode ser feito se tivermos resolvido as questões materiais: quem pode desmantelar o casal e quem pode pagar o luxo de mantê-lo?
Como se traduz, na prática, a horizontalidade, a comunidade e a cooperação como um guia para tecer e sustentar essa rede afetiva horizontal?
Vou colocar o sentimento de comunidade em um exemplo que é sobre amizade porque estou interessada em descentralizar esse mesmo núcleo novamente. Estou interessada na questão da comunidade quando há um conflito. Como nos envolvemos nesse conflito? Porque eu acho que a tendência é olhar para o outro lado. Quando há um conflito entre amigos, quando você vê um amigo que você adora fazer coisas que não estão soando bem pra você, quando você vê um amigo que quer exercer violência, mesmo involuntariamente, o que você faz com isso? Que soluções existem, além de soluções que parecem bastante monogâmicas, sobre querer ou não? O que significa amar nesses casos? O que significa acompanhar seus amigos e também pedir aos seus amigos que te acompanhem quando você se perder um pouco, deixando um espaço para dizer “se vocês perceberem que eu estou me comportando como uma idiota eu preciso que vocês me digam”?. Todos nós precisamos disso. Como fazemos isso? Estamos tentando desmantelar o binarismo do gênero, mas com todo o resto parece que só reforçamos o binarismo. Tudo o que aprendemos com o desmantelamento do binarismo, com todas as possibilidades que existem que não são nem sim nem não. Como aplicamos tudo isso à vida? Como aplicamos isso a todo o resto? Parece-me que está aí também uma linha interessante que tem a ver com a construção da comunidade.
Você conhece comunidades que conseguiram gerar outro sistema de relacionamentos?
Quando há comunidades que conseguiram resistir ao sistema, o que o próprio sistema faz é nos fazer olhar para elas com desprezo ou fazer com que elas pareçam atrasadas. Dessa maneira, nunca podemos aprender com pessoas que resistem ao sistema. No livro eu explico isso com a islamofobia poliamorosa. No Estado espanhol, fronteira com Marrocos e local de chegada de imigrantes africanos, chegam famílias poliamorosas chamadas polígamas, que são divididas na fronteira, são separadas. A Europa, em nome do feminismo, decide quais partes desses casais são as legítimas e quais não são. O que está claro é que a fronteira europeia não pode ser cruzada: por exemplo, quando uma pessoa faz o reagrupamento familiar, apenas um marido ou uma esposa é reconhecido. E não é só isso: nas fronteiras, o Estado espanhol está realizando testes de DNA para verificar se as crianças que acompanham essas pessoas são suas filhas – porque se vê que só se pode ser filho através DNA compartilhado. Isso é sistema monogâmico também. Para mim, essas são as prioridades que um movimento não monogâmico deve ter, ver o que está acontecendo nas fronteiras, aquele lugar tão áspero onde isso ganha forma e, ao mesmo tempo, ganha invisibilidade. Porque claro, são espaços muito bem camuflados.