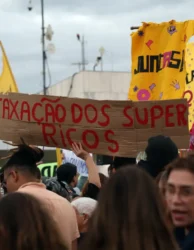Por Sara Plaza Serna
Publicado em Público
Brigitte Vasallo é uma daquelas vozes que são tão necessárias quanto desconfortáveis dentro do feminismo. Clara, direta e crítica de um movimento que se tornou sua casa, defende a necessidade de dinamitar tudo o que foi construído até agora em termos de amor — e também em relação ao poliamor ou à ideia neoliberal que nos venderam como a alternativa cool e progressista às relações monogâmicas. Em O desafio poliamoroso: por uma nova política dos afetos, ela analisa essa difícil estrutura e traz para a mesa conceitos como “hierarquia relacional”, “cadáver emocional” ou “amor Disney”.
O livro fala sobre os cadáveres emocionais deixados por esse consumismo de relacionamentos e pessoas. É muito difícil a gente sair de lá, se cuidar, se ouvir e falar… por que é tão difícil?
Não acho difícil, acho que a gente não tem vontade. Não acho difícil cuidar de seus ex-parceiros sem que isso te leve ao extremo de aceitar a violência. Acho que existem espaços de cuidado muito simples. Basta engolir um pouco o ego e não se deixar levar pela dinâmica do “amor Disney”, em que tudo explode. As experiências que considero bonitas e que foram bem sucedidas, por mais que tenham durado mais ou menos tempo, sempre foram experiências fáceis. O complicado é o outro jeito, quando você entra no confronto e começa a articular estratégias estranhas para ver como ganhar terreno. Tudo isso é complicado. Quando uma ruptura é bem sucedida, há uma sensação de que é realmente muito fácil tornar as relações mais simples. Um rompimento é sempre doloroso, mas você pode não adicionar mais sofrimento. No entanto, nas formas de amor que temos atualmente, baseadas em casais, a solução é destruir seus relacionamentos anteriores, fazer um campo minado e uma destruição emocional muito brutal. É o que acontece fora dos ambientes feministas e que leva em muitos casos aos feminicídios; e com essa ideia neoliberal de poliamor estamos na mesma dinâmica, o que acontece é que fica um pouco mais escondido.
Você conta que essas críticas ao poliamor lhe custaram ataques e vetos em certos círculos. Não estamos preparades para a autocrítica?
A autocrítica é sempre mal interpretada. É muito fácil quando te criticam de fora, porque então é o inimigo externo e você o identificou como tal. Isso faz parte do pensamento monogâmico: os outros o criticam, mas é para isso que servem os outros. Mas, quando essa crítica é feita de dentro, ela é sempre muito mal recebida. Para mim essa crítica é uma forma de cuidado. Quando olho de perto a dinâmica feminista, é porque para mim o feminismo é o lar. Não estou interessada em criticar os outros. O que me interessa é que, para cuidar dos espaços que entendemos como casa, temos que ter um olhar crítico, radical, político dentro desse movimento.
No livro, você diz que a hierarquia relacional é o eixo principal da monogamia, e não a exclusividade. O que você quer dizer com essa nova definição?
A monogamia foi mal definida. Para mim, é um sistema organizador de nossos afetos e laços sociais que coloca o núcleo reprodutivo no topo de uma forma identitária. Esse núcleo é o mais importante em nível afetivo. Isso é perigoso porque é um núcleo que nos isola, e quando a violência ocorre (e é fácil que ela ocorra devido à dinâmica de construção desse núcleo) você fica com poucos recursos no entorno, justamente devido a essa dinâmica de isolar, de hierarquizar, de priorizar. O que esse núcleo faz é que amizades, vizinhos etc. não devam ser considerados como relações importantes. Quando queremos romper a monogamia pensamos que basta ter duas relações paralelas, que muitas vezes são duas relações quase monogâmicas em paralelo. Parece-me mais radical saber se a vizinha que você não vê há vários dias está bem, se ela caiu, se está sendo cuidada… Isso sim é romper com a monogamia, porque de repente você quebra essa hierarquia e a ideia de que seu parceiro é a coisa mais importante.
Essa hierarquia é o que nos faz competir, e ela que determina nosso valor com base em termos um não um parceiro ou parceira?
O carro que você tem define um pouco o lugar social que você ocupa. Isso, que é algo super patriarcal, também se infiltrou em nossas relações amorosas. Você vale mais ou menos no mercado se faz parte ou não de um casal, e dependendo de quantos parceiros você tem, também vale mais ou menos. No final das contas estamos construindo um hipermercado de afetos e, claro, esse não é o caminho a percorrer se acreditarmos que a maneira que nos relacionamos realmente tem potencial revolucionário.
Você fala sobre aquela amiga cuida de você quando você está doente, sobre aquela amiga que fica com você em casa chorando. A amizade é um exemplo de como podemos fazer as coisas de uma maneira melhor nas relações sexuais afetivas?
Sim, mas temos o sistema tão profundamente instaurado que, às vezes, nem enxergamos nossa rede. Às vezes nos sentimos sozinhos porque não há parceiro ou porque há um projeto de casal que foi desfeito e, na realidade, é o momento em que você está mais acompanhado, porque todos ao seu redor estão te observando, estão preocupados e estão te acompanhando de uma forma muito bonita. É um núcleo que está ali com você sem fazer aqueles cálculos estranhos que o pensamento monogâmico nos impôs: quanto tempo vamos ficar juntos, quanto cuidado você vai investir ali… Coisas que têm mais a ver com a linguagem bancária do que com nossas vidas.
Você diz no livro que não pretende buscar atalhos ou dar soluções, mas sempre ficamos com aquela dúvida sobre o que podemos fazer, como podemos mudar a nossa forma de desejar e de nos relacionar…
O casal é um refúgio porque vivemos em um mundo em que, se algo acontecer com você e você ficar em casa, ninguém vai lembrar de você, quem lembra de você é sua família de sangue ou seu parceiro. Temos que desmantelar isso, mas temos que criar as condições sociais para que isso possa ser desmantelado. O que esses movimentos neoliberais estão conseguindo é quebrar comunidades já hiper-reduzidas. Somos indivíduos que vivemos apenas para nós mesmos: eis o maior triunfo do neoliberalismo. Essas dinâmicas devem ser revertidas a partir dos pequenos gestos e dos gestos comunitários. Temos que construir todas essas redes para poder desmontar o todo.
A vida das mulheres depende disso, além de tudo.
Literalmente. Um dos problemas com todo esse sistema e com o “amor Disney” é quando a violência chega. O enlace emocional e tóxico é tão rápido que, quando a violência chega, não conseguimos mais sair. E todas nós ficamos, eu também fico presa. Continuamos acreditando que, através do cuidado, do amor, tudo é possível e tudo se resolverá. Coletivamente, temos que nos articular com muita ênfase contra isso, não só educar sobre questões de abuso, mas também temos que montar uma autodefesa feminista que consiste em descobrir como realmente podemos fazer pra fugir, quais são os mecanismos necessários para ter a capacidade emocional de nos separarmos quando chegar a hora, e pedir ajuda e nos deixarmos ajudar, acompanhadas e protegidas pela nossa rede afetiva.
No livro, você faz um paralelo entre o conceito de monogamia e o de pátria, usando como exemplo o conflito catalão.
O livro termina com o que poderia ser considerado um manifesto sobre o “terror poliamoroso”. O que seria isso exatamente?
Vai em várias direções: uma é o terror que temos de falar sobre isso, o terror que é gerado quando você coloca a expressão “não monogamia” ou “poliamor” na mesa. E é um terror que compreendo, especialmente no mundo heterossexual em que os homens são educados em duas linhas contraditórias: por um lado, eles têm que ser fiéis, porque as relações exclusivas nos pedem; mas, por outro, eles têm que ganhar os louros de serem conquistadores, garanhões. Eu não sei como eles combinam isso, mas minha visão não é assim.
Proponho que seja um movimento terrorista, não no sentido patriarcal de plantar bombas em qualquer lugar, isso não resolve nada. Em vez disso, deve ser um movimento ou um modo de vida que coloca o sistema em risco. Quando você vê que em qualquer jornal de direita ou programa inofensivo se pode falar sobre poliamor, você percebe que isso não coloca ninguém em risco. É quase uma piada do sistema. Temos que levar isso à raiz: como construímos relacionamentos, como excluímos, como se constrói a competitividade entre mulheres… Isso é realmente problemático para o sistema. As experiências que vão à raiz são aquelas que não vamos ler nos jornais porque é aí que se coloca em risco a visão capitalista, patriarcal, racista, colonial, etc. de construção do mundo.