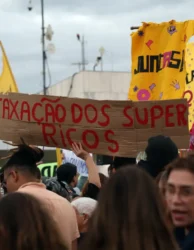Por Peter Linebaugh
Prefácio de Reencantando o mundo: feminismo e a política dos comuns
Em fevereiro de 1493, a bordo de um navio, voltando de sua primeira viagem à América, Cristóvão Colombo escreveu ao rei da Espanha um relato sobre as pessoas que acabara de conhecer. “De tudo o que têm, se algo lhes for solicitado, nunca recusam; em vez disso, convidam a pessoa a aceitá-lo e mostram tanto amor que dariam seu coração” (Brandon, 1986, p. 7-8).
Colombo havia encontrado um comum.
Silvia Federici escreve inspirada por esses povos: não só por aqueles que outrora viveram e compartilharam o comum, como também pelos que o vivem e o compartilham agora, no nosso mundo. Federici não romantiza o “primitivo” — está interessada em um mundo novo, reencantado.
Em vez de escrever a bordo de um navio e se reportar ao rei, Federici voa pelos oceanos, viaja em ônibus sacolejantes, se junta a multidões nos metrôs, anda de bicicleta e conversa com pessoas comuns, especialmente mulheres, na África, na América Latina, na Europa e na América do Norte. Com caneta, lápis, máquina de escrever ou computador, registra não o “planeta das favelas”, mas o planeta dos comuns. Como mulher e feminista, ela observa a produção dos comuns nos trabalhos cotidianos de reprodução — lavar, abraçar, cozinhar, consolar, varrer, agradar, limpar, animar, esfregar, tranquilizar, espanar, vestir, alimentar os filhos, ter filhos e cuidar de doentes e idosos.
Federici é professora, teórica social, ativista, historiadora, e não separa a política da economia nem as ideias da vida. Ela escreve a partir de locais onde a história é feita: a calçada cheia de vendedores ambulantes, a cozinha coletiva, o comércio coletivo, o parque, o abrigo para mulheres, e ali se põe a ouvir enquanto fala. Seu marxismo feminista é uma ferramenta analítica afiada com uma atitude brechtiana. Para ela, o marxismo não é mais um “ismo” ou uma opção ideológica do consumidor intelectual individual, e sim uma conquista de subjetividades coletivas, uma parte essencial de nossa inteligência partilhada. Ela ajuda a transformar em senso comum os murmúrios de quem sofre. O centro gravitacional de seu pensamento analítico não é mais o trabalho assalariado, mas as hierarquias do trabalho e as relações desiguais de poder que desagregam os comuns (Federici, 2012 [2019]).
Ela é também uma estudiosa que reconhece generosamente sua dívida para com outros acadêmicos da América Latina, da África, da Europa e da América do Norte. Reconhece o trabalho de Mariarosa Dalla Costa, Nawal El Saadawi, Maria Mies e Raquel Gutiérrez. Menciona o coletivo Midnight Notes. As mulheres zapatistas são um de seus pontos de referência, assim como sua Lei Revolucionária das Mulheres de 1993 (Klein, 2015). Suas referências bibliográficas vão satisfazer a pesquisadora engajada, seja ela iniciante, seja experiente.
Federici é uma intelectual do povo e, como tal, um antídoto para o peso de Hannah Arendt. No poder de seu raciocínio, há algo da obra Três guinéus, de Virginia Woolf; em sua lealdade de classe à vida comum do proletariado, há algo de Meridel Le Sueur; e, na intensidade ética de seu espírito, há algo da força de Simone Weil. Sua paixão é acompanhada pelo que chamo de decoro revolucionário. Para Federici, o decoro revolucionário não tem a ver com falsa cortesia, muito menos com propriedade. Por mais explosiva que possa ser sua condenação “das coisas como são”, ela mantém uma modéstia na expressão, muito alinhada ao compromisso mútuo inerente aos comuns.
Como estudiosa e teórica social, ela tanto critica quanto presta homenagem à sua tradição, como fica claro no título deste livro, Reencantando o mundo, que alude à palestra do sociólogo alemão Max Weber em 1917. Em meio ao sangrento massacre da Primeira Guerra Mundial e às vésperas da Revolução Russa, Weber falou sobre o desencantamento do mundo.
Como estudiosa feminista-marxista, Federici olha muito além da superfície — o asfalto do campus da universidade, por exemplo. Lembrando o grande slogan de Paris em 1968, ela encontra, embaixo dos paralelepípedos, não a praia, mas a grama. A vida do comum não é coisa do passado; ela o viu na Universidade de Calabar, na Nigéria, onde há gado pastando no campus. Ela espia por baixo da superfície, em outro sentido. A tecnologia requer diamantes, coltan, lítio e petróleo. Para extraí-los, o capitalismo deve privatizar terras comunais. Weber disse que a racionalização tecnológica era inevitável, um requisito essencial para o progresso. Federici denuncia a assim chamada natureza progressiva do modo de produção capitalista e vê a universalização do conhecimento e da tecnologia como um legado colonial. A mecanização do mundo foi precedida pela mecanização do corpo; a última é a escravidão, e a primeira, o efeito do trabalho dos escravizados.
Acompanhando seus escritos ao longo dos anos, descobrimos que, em vez de amolecer com o tempo, ela se tornou mais eficaz, persuasiva e eficiente. Federici não é de gastar saliva. Permanece feroz, intransigente e concentrada como sempre. As chamas da paixão juvenil, longe de se reduzirem a brasas agonizantes, formaram, internacionalmente, uma nova geração de mulheres e homens.
Rejeitando a ideia de uma cultura política universalizante, ela vê os comuns como criações realizadas a partir de histórias distintas de opressão e luta, cujas diferenças, no entanto, não criam divisões políticas. No coração dos comuns está a recusa do privilégio, um tema sempre presente no trabalho de Federici. “Precisamos ressignificar o que o próprio conceito de comunismo significa para nós”, diz ela, “e nos libertar da interiorização das relações e dos valores capitalistas, de modo que o comum defina não apenas nossas relações de propriedade mas também nossas relações com nós mesmos e com o resto das pessoas. Em outras palavras, os comuns não são um dado, e sim um produto da luta”. Ninguém pode esperar sair ileso de uma sociedade podre.
Reencantando o mundo ressignifica as categorias marxistas, reinterpretando-as em uma perspectiva feminista. “Acumulação” é um desses conceitos, assim como “reprodução”. “Luta de classes” é um terceiro, inseparável do quarto, “capital”. Para Federici, a “teoria do valor do trabalho” ainda é a chave para entender o capitalismo, apesar de sua leitura feminista redefinir o que é trabalho e como o valor é produzido. Ela mostra, por exemplo, que a dívida também é produtiva para o capital: uma poderosa alavanca de acumulação primitiva — empréstimos estudantis, hipotecas, cartões de crédito e microfinanças — e um mecanismo de divisões sociais. A reprodução (educação, assistência médica, pensões) tem sido financeirizada. Esse cenário vem acompanhado de uma deliberada etnografia da vergonha, sintetizada pelo Grameen Bank, que toma até as panelas dos “empreendedores” inocentes e empobrecidos que atrasam os pagamentos.
John Milton, autor de Paraíso perdido, o poema épico da Revolução Inglesa, condenava a prática de “apreender panelas e frigideiras dos pobres” (Milton, 1667). Ele também viu a vergonha e a astúcia: primeiro, cercar a terra; depois, apossar-se da panela. (Ou seria o contrário?)
Federici toma partido e faz isso de forma distinta de outros autores. Existe a escola de “recursos comuns”, os comuns sem a luta de classes. Há a escola que enfatiza a informação e o capitalismo cognitivo, mas ignora o trabalho das mulheres na base material da economia cibernética.
A escola da “crítica da vida cotidiana” esconde o trabalho interminável e não remunerado das mulheres. A reprodução de um ser humano é não só um projeto coletivo como também o mais intensivo de todos os trabalhos. Aprendemos que “as mulheres são as agricultoras de subsistência do mundo. Na África, elas produziam 80% da comida consumida pelas pessoas”. As mulheres são guardiãs da terra e da riqueza comunitária. São também as “tecelãs da memória”. Federici olha para o corpo em um continuum com a terra, pois ambos possuem memória histórica e estão envolvidos na libertação.
Desde 1973, a reorganização em larga escala do processo de acumulação — da terra, da casa, do salário — está em andamento. A terra inteira é vista como um oikos a ser administrado, e não como um terreno de luta de classes. Surgiu um feminismo neoliberal que aceita “racionalidades” de mercado e vê, como centro simbólico de sua arquitetura, o teto, não a lareira; e, como mobília, a escada, em vez da mesa redonda.
Ao recuperar o feminismo revolucionário e rejeitar a celebração neoliberal do privado e do indivíduo que nos dá o Homo idioticus (da palavra grega para “privado”), Federici nos oferece a Femina communia. Na sua visão política, não há comuns sem comunidade, e não há comunidade sem mulheres.
O que são os comuns? Enquanto Federici evita uma resposta essencialista, seus ensaios giram em torno de dois pontos: a reapropriação coletiva e a luta coletiva contra a maneira como fomos divididos. Os exemplos são múltiplos. Às vezes ela oferece quatro características: (i) toda a riqueza deve ser compartilhada; (ii) comuns exigem obrigações e direitos; (iii) comuns de cuidado também são comunidades de resistência que se opõem a todas as hierarquias sociais; e (iv) comuns são o “outro” do modelo estatal. De fato, o discurso dos comuns está enraizado na crise do Estado, que agora deturpa o termo para seus próprios fins.
O capitalismo faz pose de guardião ambiental da Terra, “o comum planetário”, assim como o condomínio fechado posa de “comum” enquanto deixa pessoas desabrigadas, e os shopping centers se apresentam como os “comuns da mercadoria”. À luz da perversão capitalista dos comuns, podemos entender a insistência da autora em apontar nosso corpo e nossas terras como a pedra de toque dos comuns.
Federici é mais persuasiva, apaixonada, comprometida e direta quando exige que desafiemos as condições sociais determinantes para que a vida de alguns se realize em favor da morte de outros. Isso não é divisão do trabalho; é governo pela morte, tanatocracia.
O que é encantamento? É ser arrebatado por influências mágicas. Em 1917, no entanto, os significados do vocábulo mudaram, perderam as conexões com o sublime ou o sagrado. Tal como aconteceu com as palavras “feitiço”, “magia” e “glamour”, seu significado passou a ser atrelado à alta-costura, às artes decorativas e a Hollywood. Esses termos deixaram de expressar os poderes do cosmos e do corpo, e ficaram restritos ao superficial, ao supérfluo.
Para Federici, “encantamento” não se refere ao passado, mas ao futuro. Talvez seja essa a parte principal do projeto revolucionário dos comuns, além de ser inseparável deles. A única coisa sagrada em relação à Terra é que podemos ajudar a criá-la e a cuidar dela… bem, nós e também os vermes.
A palavra “encantamento” vem de uma palavra francesa, chanter, que significa cantar. Decerto, “cantar” o mundo para trazê-lo à existência pode ser meditativo — às vezes, o movimento precisa parar e não fazer nada. Mas, se entendermos que “canção” inclui poesia, o apelo para encantar o mundo, para cantar a criação, é rapsódico e profético. É uma realização em coro. Antigamente, quando Colombo navegava, o povo da América cantava enquanto o milho crescia; acreditava-se que esse canto gerava o crescimento. O primeiro historiador europeu das Américas, Peter Martyr, coletou histórias de conquistadores à medida que voltavam de suas viagens. Martyr resumiu a sabedoria dos povos que já habitavam o continente americano: “O que é meu e o que é vosso (as sementes de todo o prejuízo) não têm lugar”.
Nada se ganha ansiando e postergando. Leia, estude, pense, ouça, converse e, ao lado de outras pessoas, aja, isto é, lute. Como Federici nos diz, o novo mundo está à nossa volta, diz respeito a nós, e somente nossa luta pode trazê-lo à existência e reencantá-lo.
MICHIGAN, 2017