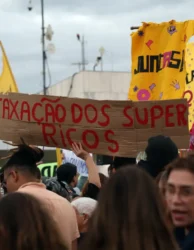Trecho da introdução de Antropoceno ou Capitaloceno?
Os capítulos de Antropoceno ou Capitaloceno? não são fáceis de resumir, mas deles emergem dois temas comuns. Primeiramente, todos os ensaios sugerem que o argumento do Antropoceno faz uma pergunta a que ele não pode responder. O Antropoceno faz soar o alarme — e que alarme! Mas é incapaz de explicar como essas mudanças alarmantes ocorreram. Questões acerca do capitalismo, de poder e classe, antropocentrismo, enquadramentos dualistas de “natureza” e “sociedade” e o papel dos Estados e impérios — tudo isso costuma ser limitado pela perspectiva dominante do Antropoceno. Em segundo lugar, os colaboradores deste livro buscam ir além da crítica. Todos argumentam a favor de reconstruções que apontem uma nova maneira de pensar a humanidade-na-natureza e a natureza-na-humanidade.
A primeira coisa que quero dizer é que Capitaloceno é uma palavra feia para um sistema feio. Como aponta Haraway, “Capitaloceno” parece ser uma dessas palavras flutuando no éter, cristalizada por vários pesquisadores ao mesmo tempo — muitos de forma independente.
Como mencionei, ouvi o termo pela primeira vez de Andreas Malm, em 2009. O economista radical David Ruccio parece ter sido o primeiro a divulgar o conceito em seu blog, em 2011 (Ruccio, 2011). Por volta de 2012, Haraway começou a usar o conceito em suas palestras (Haraway, 2015). Nesse mesmo ano, eu e Tony Weis discutíamos o conceito em relação ao que se tornaria sua obra The Ecological Hoofprint [A pegada ecológica] (2013), verdadeira divisora de águas acerca do complexo industrial da produção de carne. Minha concepção do Capitaloceno tomou forma nos primeiros meses de 2013, enquanto aumentava minha infelicidade com o argumento do Antropoceno.
Capitaloceno. Como esclarecem os autores deste livro, o Capitaloceno não significa capitalismo como sistema econômico e social. Não é uma inflexão radical da Aritmética Verde. Em vez disso, entende o capitalismo como uma maneira de organizar a natureza — como uma ecologia-mundo multiespécie, situada e capitalista. Vou tentar usar a palavra com cautela. Já se fizeram outros jogos de linguagem — Antrobsceno (Parikka, 2014), Econoceno (Norgaard, 2013), Tecnoceno (Hornborg, 2015), Misantropoceno (Patel, 2013) e, talvez mais divertido, Mantropoceno [homemtropoceno]. Todos são úteis. Mas nenhum deles captura o padrão moderno histórico básico da história mundial enqunto a “Era do capital” — e a era do capitalismo como uma ecologia-mundo de poder, capital e natureza.
Na Parte I, Eileen Crist e Donna Haraway desmantelam o conceito de Antropoceno e apontam possíveis alternativas. Crist faz um poderoso alerta contra o uso do argumento do Antropoceno — e outros “autorretrato[s] prometeico[s]”, os quais tendem a reinventar e, por vezes, sutilmente recuperar o pensamento neomalthusiano.
Enquanto muitos defensores do conceito indicam de que maneira o Antropoceno introduziu a discussão, Crist vê essa abertura como demasiado seletiva. Para a autora, o conceito “encolhe o espaço discursivo para questionar a dominação [humana] da biosfera, oferecendo, em vez disso, um argumento tecnocientífico em prol de sua racionalização”. Inspirando-se em Thomas Berry, Crist nos direciona para um enquadramento distinto — e mais esperançoso — do presente e de nossos possíveis futuros.
Essa não seria uma “Era do homem”, mas uma “Era ecozoica”: uma visão da humanidade-na-natureza como uma união na diversidade, na qual a humanidade pode abraçar a “comunidade viva integral da Terra”.
O carvão e o motor a vapor não determinaram a história, e, além disso, as datas estão todas erradas, não porque seja preciso retornar à última era do gelo, mas porque é preciso ao menos incluir as grandes remundificações do mercado e da mercadoria dos longos séculos XVIe XVII, mesmo se acharmos (erroneamente) que podemos continuar eurocentrados ao pensar sobre as transformações “globalizantes” que moldam o Capitaloceno.
A geografia histórica do Capitaloceno se desloca para o palco principal na Parte II. Em “O surgimento da Natureza Barata”, eu argumento a favor de um enquadramento interpretativo da história do capitalismo, erigido sobre a crítica que Haraway (2008) faz há muito tempo do “excepcionalismo humano”. O capitalismo é uma maneira de organizar a natureza como um todo, uma natureza na qual organizações humanas (classes, impérios, mercados etc.) não apenas constroem ambientes, mas são simultaneamente criadas pelo fluxo histórico e pelo fluir da teia da vida.
Nessa perspectiva, o capitalismo é uma ecologia-mundo que se junta à acumulação do capital, à busca pelo poder e à coprodução da natureza em configurações históricas sucessivas. Mostro que a ênfase na Revolução Industrial como origem da modernidade decorre de um método histórico que privilegia consequências ambientais e oculta as geografias do capital e do poder. O caso de amor entre Pensamento Verde e Revolução Industrial minou esforços para localizar a origem das crises de hoje nas transformações definidoras de época do capital, do poder e da natureza, que começaram no “longo” século XVI (Braudel, 1953). As origens das crises atuais — inseparáveis, mas distintas — da acumulação de capital e da estabilidade biosférica podem ser localizadas numa série de transformações de paisagem, classes, território e técnica que emergiu nos três séculos após 1450.
Justin McBrien concorda que estamos vivendo no Capitaloceno, destacando o impulso do capitalismo rumo à extinção, num sentido de ecologia-mundo. A extinção, argumenta, é mais do que um processo biológico sofrido por outras espécies. Significa também a “extinção de culturas e linguagens”, o genocídio e o espectro de mudanças biosféricas compreendidas como antropogênicas. McBrien demonstra que a própria concepção dessas mudanças como antropogênicas tem como premissa a exclusão conceitual sistemática do capitalismo. Essas concepções são, na narrativa do autor, um produto da ciência moderna, ao mesmo tempo se opondo e se mesclando dentro das teias de poder imperial e acumulação de capital. Longe de ser apenas um produto do sistema — como na Aritmética Verde —, ele mostra que a “acumulação por extinção” foi fundamental para o capitalismo desde o começo. O Capitaloceno, em sua visão, também é um Necroceno: “A acumulação de capital é a acumulação de extinção potencial — um potencial cada vez mais ativo nas décadas recentes”. Longe de abraçar o catastrofismo planetário e as visões apocalípticas de muitos ambientalistas, McBrien revela como o próprio catastrofismo foi uma forma de conhecimento enquadrada nos sucessivos regimes ecológicos do pós-guerra e do capitalismo neoliberal. O catastrofismo, em sua leitura, transformou ambos os polos do par binário ambientalista — “sustentabilidade ou colapso?” (Costanza, Graumlich & Steffens, 2007) — em imagens espelhadas uma da outra.
Elmar Altvater vai além da economia política para incluir a “racionalidade europeia da dominação mundial” de Max Weber e desafiar as principais bases da racionalidade moderna. Por um lado, Altvater enxerga as origens do capitalismo no longo século XVI e a invenção da Natureza Barata. Por outro, ele vê uma mudança decisiva na transição da subsunção do trabalho pelo capital de um caráter “formal” para “real” no fim do século XVIII e começo do XIX. Altvater chama essas duas periodizações de hipóteses “Braudel” e “Polanyi” — em referência a Fernand Braudel e Karl Polanyi. Longe de competirem entre si, essas periodizações são mais bem contempladas na totalidade do capitalismo histórico: ambas as posições, a de Braudel e a de Polanyi, estão corretas. É importante, para Altvater, que o Capitaloceno não seja apenas uma questão de acumulação do capital, mas de racionalização — imanente ao processo de acumulação. Mapeando as contradições entre o cálculo em âmbito empresarial dos custos e a “racionalidade” microeconômica da externalização, ele ilumina um conjunto mais amplo de problemas da modernidade e sua capacidade de lidar com a mudança climática. Usando a geoengenharia como exemplo, Altvater sinaliza a armadilha da racionalidade burguesa em relação à mudança biosférica de hoje. A tarefa dos geoengenheiros
é muito maior do que construir um carro, uma represa ou um hotel. Os geoengenheiros precisam controlar sistemas terrestres por completo para combater — ou ao menos reduzir — as consequências negativas da externalização capitalista. No entanto, a internalização que se exige das emissões externalizadas é a internalização dos efeitos externos para custos de produção da empresa. Então, de fato — em princípio —, os preços podiam “dizer a verdade”, como nos manuais neoclássicos. Mas ainda não seríamos mais sábios, porque muitas interdependências na sociedade e na natureza não podem ser expressas em preços. Qualquer racionalização eficaz teria de ser holística; precisaria ser qualitativa e levar em conta muito mais coisas do que apenas o preço. E isso é impossível, pois contradiz a racionalidade capitalista, que está comprometida em consertar as partes, e não o todo. Em tal cenário, a modernização capitalista, por meio da externalização, chegaria — inevitavelmente — ao fim. As Quatro Coisas Baratas (Four Cheaps) desapareceriam atrás do “horizonte de eventos”. Seria possível que os geoengenheiros trouxessem a moderação necessária da modernização e das dinâmicas capitalistas? Não, pois os engenheiros não estão qualificados para trabalhar de forma holística.
Na Parte III, os holofotes se voltam a questões de cultura e política no Capitaloceno. No capítulo 6, Daniel Hartley pergunta qual a importância da cultura para pensar a respeito do Antropoceno e do Capitaloceno. Partindo de uma perspectiva de ecologia-mundo, ele sugere que os conceitos de “natureza abstrata social” (Moore, 2014b, 2015a) e “ajuste cultural” (Shapiro, 2014) fornecem guias rudimentares — porém parciais — à história do capitalismo na teia da vida. Alertando sobre os riscos que podem separar “ciência” e “cultura” na criação capitalista do meio ambiente, Hartley aponta as relações entre ciência e cultura, capital e natureza, como fundamentais para as geografias históricas da acumulação infinita. Nessa formulação, desenvolve um argumento robusto a favor da incorporação analítica dessas relações — racismo, sexismo e outras formas “culturais” — que aparentam não ter relação imediata com a ecologia, mas que são, na verdade, fundamentais às diversas relações da humanidade dentro da teia da vida.
Christian Parenti, no capítulo de encerramento, nos conduz da cultura às políticas do Capitaloceno. A inovação de Parenti é dupla. Primeiro, ele reconstrói o Estado moderno, entendendo-o fundamentalmente como um processo de criação de ambiente (environment-making).
O Estado moderno não se limita a produzir mudanças ambientais. Da mesma maneira, o poder estatal, como Parenti mostra em sua exploração do início da história estadunidense, desenvolve-se por meio da transformação ambiental. Em segundo lugar, o Estado moderno opera através de uma valoração peculiar da natureza — o que Marx chama de trabalho social abstrato. A descoberta de Parenti é que o poder, o valor e a natureza só podem ser pensados em relação uns com os outros. Portanto, o Estado moderno “está no cerne da forma valor […], porque os valores de uso da natureza não humana são […] fontes centrais de valor”, e é o Estado quem os fornece. Longe de operar fora ou acima da “natureza”, na visão de Parenti, o Estado se torna o nexo organizativo fulcral da relação entre território moderno, acumulação de capital e percepção da natureza como torneira e pia. As implicações políticas da análise são cruciais. O Estado não é apenas analiticamente central à elaboração da ecologia-mundo capitalista; é a única instituição grande e poderosa o bastante para permitir uma resposta progressiva para os desafios crescentes das mudanças climáticas.