Por George Souvlis & Ankica Čakardić
Tradução de Oleg Savitskii & Anna Savitskaia
Em Lavra Palavra
Em entrevista concedida em outubro de 2016, a historiadora feminista italiana Silvia Federici, autora de Calibã e a bruxa, fala sobre sua formação política na Itália do pós-guerra e na efervescência dos Estados Unidos nos anos 1960 — sem esquecer de suas passagens pela Nigéria e pela América Latina, onde pôde observar na prática a resistência dos povos contra o avanço do capitalismo sobre a vida comunitária e os recursos naturais.
“A despeito das dificuldades que as pessoas, e as mulheres em particular, enfrentam por causa das políticas extrativistas, da violência sempre presente, praticada por exércitos, paramilitares, narcotraficantes e pela ‘guerra às drogas’, as lutas que as pessoas travam para manter sua autonomia, recriar as formas autônomas e coletivas de reprodução e de autogoverno, nascidas muitas vezes de situações de expropriação total, representam não um modelo, mas uma inspiração que afeta de maneira positiva meu próprio pensamento e prática políticos”, diz Silvia Federici.
Na conversa, a feminista italiana criticou as interpretações marxistas que não consideram o papel que a reconstrução do trabalho reprodutivo desempenhou no desenvolvimento do capitalismo. “[Os marxistas] Perceberam corretamente a separação do campesinato da terra como condição essencial para a existência das relações capitalistas, mas ignoraram a separação entre produção e reprodução, a desvalorização do trabalho reprodutivo, seu confinamento a uma esfera aparentemente não econômica e a consequente desvalorização da posição das mulheres, as quais, com a transição para o capitalismo, estariam destinadas a se tornarem os sujeitos principais desse trabalho.”
Confira alguns trechos da entrevista:
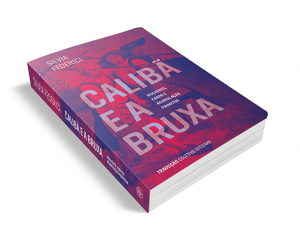 Quais foram suas experiências formativas política e pessoalmente?
Quais foram suas experiências formativas política e pessoalmente?
A primeira experiência mais formativa da minha vida foi a Segunda Guerra Mundial. Cresci no período do pós-guerra imediato quando as lembranças de uma guerra, que durara anos, somadas às dos anos do fascismo na Itália, ainda estavam vivas. Desde jovem, eu estava ciente de que nascera em um mundo profundamente dividido e facinoroso, que o Estado, longe de nos proteger, poderia ser inimigo, que a vida é extremamente precária, mas, como cantaria mais tarde Joan Baez em uma música, “aqui, a não ser pelo destino, estamos nós”. Era difícil crescer na Itália do pós-guerra e não se politizar. Mesmo ainda pequena, não pude deixar de ser antifascista ao ouvir todas as histórias que meus pais nos contavam.
Além disso, cresci em uma cidade comunista, onde, no Dia do Trabalho, os trabalhadores ostentavam cravos vermelhos nas lapelas e nós acordávamos ao som de “Bella Ciao”, e onde a luta entre comunistas e fascistas prosseguia, com os fascistas tentando periodicamente explodir o monumento aos guerrilheiros e os comunistas atacando em retaliação a sede do Movimento Social Italiano, que todos sabiam ser a continuação do então banido partido fascista. Ao completar 18 anos, me via como radical, visto que à época o modelo da luta era ainda o dos operários de fábrica ou a luta antifascista.
Minha vinda aos Estados Unidos também foi um grande momento decisivo e de formação política. Cheguei no verão de 1967. A universidade de Buffalo, onde eu deveria estudar pelos próximos três anos, era um campus muito ativo, situado na fronteira com o Canadá e o local de passagem para muitos ativistas antiguerra que tentavam escapar do recrutamento. Cheguei em meio a várias mobilizações em apoio ao grupo Buffalo 9, que havia sido preso ao tentar cruzar a fronteira ao lutar contra a armação do FBI contra Martin Sostre, ativista portorriquenho muito respeitado pela comunidade negra.
Logo me juntei aos protestos estudantis e antiguerra. Comecei a trabalhar com Telos e um jornal undergound chamado The Town Crier. Nos Estados Unidos, aprendi sobre o legado da escravidão, do racismo, do imperialismo. Também conheci a “nova esquerda” italiana, o Operaísmo, e os grupos extraparlamentares que se formaram como resultado do movimento de maio de 1968 na França e do Outono Quente na Itália. Eu estava particularmente inspirada pela leitura de Marx feita por Fronti, que afirmava que primeiro vinha a classe operária e depois o capital, querendo com isso dizer que o capital não se desenvolve a partir de sua lógica autônoma, mas em resposta à luta da classe operária, que é o motor primordial da mudança social. Aquilo foi uma grande lição para mim, me ensinou a procurar a luta sempre, as contradições sociais como chaves para compreender a realidade social.
Além disso, o Operaísmo fez uma crítica do materialismo histórico e das políticas dos partidos comunistas. Mas, evidentemente, foi importante conhecer o novo pensamento político italiano nos Estados Unidos, porque, ali, nunca poderia esquecer a história do colonialismo e da escravidão, a história dos não assalariados. Essa história – e, é claro, a minha experiência de ter crescido em uma Itália ainda patriarcal do pós-guerra – moldou a minha abordagem do feminismo que foi mais um momento verdadeiramente revolucionário da minha vida.
Não vou falar disso porque meu trabalho fala por si. Em vez disso, falarei sobre o que significou para mim, no início da década de 1980, ter podido passar um tempo lecionando na Nigéria, meu primeiro encontro com a África subsaariana. À época, eu já lera muito sobre o colonialismo, assim como sobre as políticas de desenvolvimento e subdesenvolvimento, mas a Nigéria foi mais um momento de transformação política subjetiva, não porque tenha mudado a minha visão das relações sociais, mas porque revelou toda uma realidade que era imensamente diferente daquela que tinha vivido com base no meu conhecimento adquirido através de livros. Na Nigéria, aprendi sobre relações comunais, sobre a importância contínua da terra, aprendi sobre a maldição que é o petróleo para os países em que é descoberto, e sobre a grande criatividade do povo africano. As aulas que eu conseguira ministrar ali chegaram ao fim com a escalada da “crise da dívida” e das repressões políticas.
Porém, ao voltar aos Estados Unidos, comecei a passar cada vez mais tempo no México, e mais recentemente em outros países da América Latina, também devido à publicação do livro Calibã e a bruxa no México, na Argentina e no Equador, e agora no Brasil. Menciono a América Latina porque, a despeito das dificuldades que as pessoas, e as mulheres em particular, enfrentam por causa das políticas extrativistas, da violência sempre presente, praticada por exércitos, paramilitares, narcotraficantes e pela “guerra às drogas”, as lutas que as pessoas travam para manter sua autonomia, recriar as formas autônomas e coletivas de reprodução e de autogoverno, nascidas muitas vezes de situações de expropriação total, representam não um modelo, mas uma inspiração que afeta de maneira positiva meu próprio pensamento e prática políticos.
Seu trabalho tem muitas semelhanças com o de Paddy Quick, Maria Mies e Wally Seccombe. Todos esses escritores sustentam que, para analisar a opressão às mulheres no capitalismo, vários pontos devem ser levados em consideração: divisão sexual do trabalho; reprodução social; o controle dos corpos das mulheres e do poder reprodutivo; e a influência dinâmica das formas de família. Nesse sentido, você situa explicitamente o seu trabalho dentro da herança teórica do debate sobre o trabalho doméstico, valendo-se do argumento de Dalla Costa e James de que a divisão sexual do trabalho e do trabalho não remunerado desempenha uma função central no processo da acumulação capitalista. Você poderia falar-nos um pouco mais sobre as diferenças entre seus trabalhos? E o que vê como distinção entre os sistemas capitalista e feudal?
Embora todos os autores aos quais vocês se referiram tenham assentado a posição das mulheres na sociedade capitalista no processo de reprodução, há diferenças significativas entre nós. Uma diferença (por exemplo, entre a minha análise de salários para o trabalho doméstico e a de Maria Mies) reside no fato de que nós sempre definimos o trabalho doméstico como uma construção capitalista e, especificamente, como trabalho cujo objetivo social é a reprodução da força laboral.
Salientei muitas vezes que, na realidade, o trabalho doméstico/reprodutivo possui dupla natureza: reproduz a nossa vida e, ao mesmo tempo, espera-se que reproduza a força de trabalho — e, por causa disso, sujeite-se a restrições específicas. Na obra de Mies, você nem sempre encontrará essa distinção. Em sua análise, existe uma continuidade entre trabalho doméstico e reprodução orientada para a subsistência nos assim chamados países “subdesenvolvidos”. Isso é parcialmente verdadeiro. Mas há uma diferença entre trabalho reprodutivo/doméstico em condições nas quais as mulheres têm acesso à terra ou a outras formas de reprodução, como, por exemplo, em muitas comunidades indígenas, e trabalho doméstico que não é remunerado e depende de um salário (principalmente o do homem). No entanto, concordo largamente com Mies e admiro a maneira como ela expandiu o conceito de reprodução para incluir o trabalho agrícola na maior parte do assim chamado terceiro mundo.
A distinção entre o sistema feudal e o sistema capitalista origina-se da expropriação radical a que os trabalhadores estão sujeitos no capitalismo, e de sua separação dos meios de reprodução. Este é o motor do desenvolvimento capitalista, assim como da exploração intensa do trabalho. Como salientei em Calibã e a bruxa, o capitalismo é o primeiro sistema de exploração que vê antes o trabalho do que a terra como a principal forma de riqueza. Por essa razão, desenvolveu toda uma nova política relativa ao disciplinamento do corpo, especialmente do corpo das mulheres, e à gestão da reprodução, começando com a procriação. O capitalismo deve controlar o trabalho de reprodução, visto que ele é um aspecto central do processo de acumulação, de modo que o trabalho reprodutivo funciona antes como a reprodução da força de trabalho, ou seja, nossa capacidade de trabalhar, do que como a reprodução de nossa luta.
Em Calibã e a bruxa você se refere ao artigo de Robert Brenner “As raízes agrárias do capitalismo europeu”. O que você acha do trabalho de Brenner e do trabalho de outros “marxistas políticos”?
Não me lembro agora de todos os argumentos de Brenner e da escola do Marxismo Político. Concordei com seu foco na transformação das relações agrárias na Europa como crucial para o desenvolvimento capitalista, embora a formação de um mercado agrário/fundiário também tenha sido possibilitada pelo fluxo abundante da prata para a Europa após a conquista de vastas regiões da América do Sul. Porém, a crítica que tenho a essa escola é a mesma que tenho à abordagem de Marx: seu desconhecimento do papel que a reconstrução do trabalho reprodutivo desempenhou na “decolagem” capitalista.
Perceberam corretamente a separação do campesinato da terra como condição essencial para a existência das relações capitalistas, mas ignoraram a separação entre produção e reprodução, a desvalorização do trabalho reprodutivo, seu confinamento a uma esfera aparentemente não econômica e a consequente desvalorização da posição das mulheres, as quais, com a transição para o capitalismo, estariam destinadas a se tornarem os sujeitos principais desse trabalho. Tal como Marx, Brenner e a escola do Marxismo Político ignoram a caça às bruxas dos séculos XVI e XVII em sua análise do impacto do desenvolvimento capitalista sobre as relações agrárias, o que eu acho ser um grande erro.
Você acha possível que o capitalismo pudesse existir sem a apropriação do trabalho doméstico não remunerado das mulheres?
Não acho que isso seja possível, porque o trabalho não remunerado das mulheres, que continua até os dias de hoje, é a condição para a desvalorização da força de trabalho. Sem esse trabalho, a classe capitalista teria de fazer um grande investimento em todas as infraestruturas necessárias para reproduzir a força de trabalho e a sua taxa de acumulação seria seriamente afetada. Há também o lado político da desvalorização e da conseqüente naturalização do trabalho reprodutivo. Ele tem sido a base material para uma hierarquia laboral que divide mulheres e homens, o que permite ao capital controlar a exploração do trabalho feminino de forma mais eficiente por meio do casamento e das relações matrimoniais, inclusive a ideologia do amor romântico, e pacificar os homens dando-lhes uma serviçal sobre quem exercitar o seu poder.
Os últimos anos viram tanto o aumento da imigração para a Europa como o aumento dos partidos de extrema direita. Como nós, de esquerda, podemos enfrentar essa situação terrível?
É impossível expressar, em poucas palavras, a dor e a indignação que sinto ao ver o que os governos e tantas pessoas na Europa estão fazendo com os refugiados das guerras que esses mesmos governos financiam. É assustador ver que, ano após ano, quase toda semana, naufragam no Mediterrâneo os barcos que transportam refugiados, provocando a morte de centenas e centenas de pessoas, de tal forma que o Mediterrâneo agora é um grande cemitério, e isso está acontecendo diante dos olhos de todo o mundo, não em campos de concentração escondidos – isso sem falar dos “centros de hospitalidade”, que são cadeias onde essas pessoas são mantidas por tempo indeterminado em condições ignóbeis.
É evidentemente deplorável que a resposta de muitas pessoas, inclusive operários, não seja solidariedade, mas rejeição, perseguição e posturas nacionalistas. É particularmente preocupante, pois, muitas vezes, é uma guerra entre os pobres, visto que aqueles que querem erguer barreiras são as próprias pessoas que lutam para sobreviver, que pensam que podem se proteger não por meio da solidariedade com refugiados, mas mediante a política de exclusão. Eu gostaria, porém, de acrescentar que precisamos saber mais sobre neonazistas que atacam refugiados na Alemanha, por exemplo, já que há evidências de cumplicidade por parte das autoridades e da polícia, a ponto de pensarmos que os neonazistas surgem como instrumentos de controle dos refugiados que podem ser úteis como força de trabalho barata, mas desde que aceitem permanecer no degrau mais baixo da escada social.
Houve, nos últimos anos, um crescimento das formações de esquerda – de Corbyn e Sandres ao Podemos. Você vê alguma esperança nessa evolução, no sentido de transformação social significativa? Como você acha que a esquerda deve se relacionar com o Estado?
Essa não é uma pergunta fácil de responder. […] Vemos que os governos inclinados à esquerda e toda a política progressista tanto na Europa como na América Latina estão em crise. Poucos se mobilizaram no Brasil para exigir a reintegração de Dilma Rousseff no cargo, embora muitos tenham condenado seu impeachment como um movimento fraudulento, quase um golpe. O registro dos governos progressistas é que, na melhor das hipóteses, eles aliviaram algumas formas de pobreza extrema, mas não mudaram os modos de produção, não implementaram as reformas que os movimentos sociais que os levaram ao poder exigiam, não refrearam a violência do exército e da polícia.
Talvez uma narrativa diferente pudesse ser feita a favor do chavismo, visto que era mais respeitoso com o poder do povo, mas ele também se baseou nas políticas extrativistas, fazendo com que o país ficasse dependente dos altos e baixos do mercado global. E o que dizer de Bernie Sanders, que, depois de passar meses explicando por que seus seguidores não deveriam votar em Clinton, depois afirmou que essa seria a única alternativa? Que lição de cinismo!
Não chamo a política dos comuns de “espontaneísta”. Atualmente existem no mundo muitos regimes comunitários que têm centenas de anos de história. E não há muita espontaneidade na defesa dos bens comuns em muitas partes do mundo quando se deve enfrentar a violência de grupos paramilitares, exércitos e guardas de empresas de segurança. Claramente, não deveríamos ser dogmáticos nesses assuntos. Em níveis locais, muitas vezes é possível exercer alguma influência sobre os governos. Mas o que estamos vendo é que os centros, em que decisões são tomadas, se afastam cada vez mais do alcance das pessoas. Também estamos vendo a formação de uma estrutura de poder internacional que substitui de forma constante o poder do Estado-nação, como é o caso da União Europeia.
Por causa da constante interferência do FMI e do Banco Mundial nas políticas públicas, especialmente, mas não exclusivamente, nas do “terceiro mundo”, estamos vendo a proliferação de Acordos de Livre Comércio como o TTP ou TTIP (felizmente ainda não assinados) – que estabelecem o controle direto da economia global pelo capital, de modo que nenhuma decisão pode ser tomada em nível econômico sem ser antes aprovada pelas grandes corporações e eliminar totalmente a soberania nacional. Sob essas condições, como ser otimista em relação à instalação de governos de esquerda/radicais?
Uma onda de mudanças varreu a América Latina na virada do século XXI, derrubando os governos neoliberais. Cruciais nisso foram os novos movimentos sociais que emergiram exigindo tanto direitos sócio-políticos como econômicos. Isso, no entanto, provocou tensões entre partidos dominantes e movimentos sociais. Você acredita que essas tensões podem ser resolvidas de forma que possam promover os interesses das classes trabalhadoras da América Latina?
Eu visitei o Equador em abril de 2016 e tive muitos encontros com grupos ambientalistas e de mulheres e seus relatos foram unânimes. As pessoas estão indagando: por que a esquerda europeia e americana fala de Rafael Correa como se ele fosse um radical quando suas políticas estão em conformidade com o neoliberalismo? Dado que Correa, mais do que seus antecessores, está promovendo agora ataques contra as terras indígenas e demonstra, em suas políticas do dia a dia, um completo desprezo pelas mulheres? Levado ao poder por um movimento dos povos indígenas, Correa introduziu na constituição do país o princípio de que a natureza também tem direitos e, de início, parecia determinado a não explorar seus recursos petrolíferos, mas acabou mudando de ideia e atualmente está promovendo investimentos estrangeiros e a perfuração de poços de petróleo no parque de Yasuni.
Não admira que, repetidamente, ele entra em confronto com as mesmas populações indígenas que uma vez o apoiaram, e o seu governo é amplamente condenado como desdenhoso dos movimentos desde baixo, autoritário e apoiador do poder corporativo. Evo Morales também fala de Pachamama quando viaja para o exterior, mas segue uma política extrativista semelhante, a qual, além de destruir terras, florestas, rios, cria uma forma interna de colonialismo. Isso não quer dizer que não há grupos de trabalhadores que possam apoiar suas políticas, já que o extrativismo significa salários para alguns, ainda que ao preço da destruição dos meios de subsistência de muitos, da mesma forma que, em muitas comunidades dos Estados Unidos, trabalhadores jovens apoiam o fracking.












